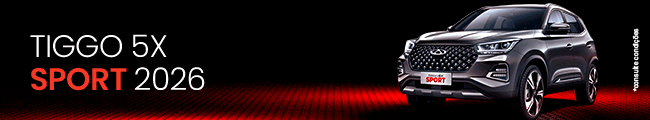A coisa mais estranha que vi minha mãe fazendo, eu ainda não devia ter 4 anos de idade, foi ela ter lavado o corpo morto da vizinha.
Era uma senhorinha que só usava vestido preto, pequenininha, na minha memória bem velhinha. Alguém foi dizer que ela havia morrido. E o momento seguinte ao anúncio já era esse banho.
Acho que não tinha ninguém para cuidar de mim, ou eu sempre ia atrás de minha mãe mesmo quando ela me deixava sob os cuidados de alguma irmã, não me lembro, só lembro que ela e a dona Maria, a vizinha de frente de casa, passavam um pano branco molhado, que pegavam dentro de uma bacia de alumínio, nas pernas e braços da mulher. Não olhe, me dizia ela. Eu desviava meu rosto daquele corpo para em seguida me fixar novamente nele. Era magnético.
Um sábado, na feira da rua Jerônimo Rosa, uma vizinha comprou um frango vivo. Eles eram vendidos assim. O vendedor trazia as aves num viveiro quadrado feito com ripas de madeira. Era todo cagado e fedido. A compradora, só as mulheres iam fazer compra, não tenho na memória nenhum homem fazendo isso, escolhia o frango. O vendedor amarrava um pé no outro e a compradora ia embora com o frango vivo com a cabeça pra baixo.
Essa cena era habitual. Eu não tinha idade para associar aquele frango no engradado, de cabeça pra baixo nas mãos de alguma mãe de algum vizinho, com os pedaços no “Arroz com frango” que eu adoro ainda hoje. A gente demora para fazer essa conexão.
Naquela manhã de sábado, não me lembro como exatamente aconteceu, quando me dei conta a vizinha passou das mãos dela para a da minha mãe o frango que ela carregou rua Souza Moraes acima por uns 200 metros ou mais e minha mãe, num único golpe, crac, destroncou o frango. Instantaneamente ele ficou inerte. E com uma faca afiada simplesmente ela decepou a cabeça do bicho erguendo os seus pés mortos de modo que o sangue do frango caísse dentro de uma bacia. A carne vai ficar branquinha, me lembro da minha mãe dizendo para a dona do animal.
Minha mãe tinha uma caixa retangular de metal, a parte debaixo era pintada de preto e a tampa cor de inox ou alumínio polido. Dentro tinham seringas de vidro. Ela fervia a seringa e a agulha em uma panelinha com água. E ela “dava injeção” no Alan, caminhoneiro, marido da Cida, pai do Renato, Rosana e Rosiléa. No Zico, também. Ele era policial militar, marido da Alfa, pai do Edu e da Carla. Nenhuma outra mãe dava injeção em ninguém. Eu a acompanhava, mas ficava na sala, não podia ir no quarto. Às vezes eu espiava pela fresta da porta e conseguia ver a agulha entrando na pele deles.
Minha mãe nunca deixou de fazer coisas estranhas!
Me lembro dela indo à noite num prédio anexo à Igreja Santa Rita e estudar numa sala com outras senhoras. Foram anos assim. O professor era um frei alto, loiro e careca, era alemão, falava com sotaque. Eu ficava do lado de fora da sala, sentado nos degraus da escada, só ouvindo. Quando acabava a aula a gente voltava pra casa de mãos dadas.
Muito estranho foi quando ela virou professora de Religião na escola onde eu estudava, no Genésio Machado. Deveria se chamar aula de catolicismo, pois para minha mãe só existia essa religião. Sobre as de matrizes africanas, orientais, espiritismo… ela não sabia nada além do fato de saber que existiam.
Ela presidiu o grupo “Coração de Jesus” de mulheres da igreja e fazia a ata do que elas falavam, então ela enchia páginas e páginas do seu caderno. Eu nunca consegui ler o que estava escrito ali. Era estranho, mas ainda mais estranho era ver ela usando uma faixa que cruzava seu peito, como aquelas que os jogadores de futebol usavam quando ganhavam um campeonato, nas missas. Quando ela morreu, colocaram uma dessas junto dela no caixão.
Foi estranho como ela segurou minha mão, entrecruzando nossos dedos, quando me “formei” na 8° série. Ela me olhava de forma tão aguda e me fazia me sentir extraordinário. Aquilo sim foi estranho! E de alguma forma é como eu me sinto ainda hoje… extraordinário. Não, estranho. Extraordinário. Estranho…